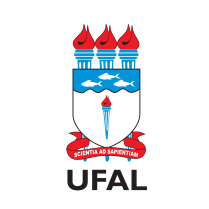Em entrevista, pesquisadora falou sobre lutas contra o capitalismo, heteropatriarcado e racismo
Elaine Rodrigues – jornalista com fotos de Renner Boldrino

A consciência de que a mulher negra no Brasil é atravessada por marcadores de classe, gênero e raça, é um dos temas de estudo da ativista, pesquisadora e escritora Carla Akotirene. A interseccionalidade é um conceito de 1989, mas é tão atual que requer um posicionamento diferente: uma atenção multifacetada e um esforço coletivo, segundo ela. Para a pesquisadora, o enfrentamento do capitalismo, do heteropatriarcado e do racismo precisa ser feito em conjunto, como um caminho que passa pela educação antirracista e por medidas de correção de desigualdades estruturais.
Convidada a participar da 10ª edição da Bienal Internacional do Livro de Alagoas, Akotirene chegou encantando os visitantes do evento com sua simpatia. Mas como disse na campanha de uma empresa especializada em produtos de beleza, não foi sorte. Formada em Assistência Social e doutora em Estudos de Gênero, ela debateu a vivência da mulher negra no Brasil com conhecimento de causa e com um olhar vigilante.
Pouco antes da palestra e da roda de conversa, ela conversou sobre esses e outros temas, confira a entrevista:
Elaine Rodrigues – Você é uma inspiração por ser ativista, escritora, pesquisadora e, recentemente, fez uma campanha ressaltando que não é sorte, nunca foi sorte. Como foi esse processo para chegar até aqui e como é gerenciar tudo isso?
Carla Akotirene – Está em trânsito, não é, minha irmã? Por mais que o movimento negro, o movimento feminista negro, impulsione a nossa autoestima no sentido de produzir conhecimento, nos estabelecermos sem deturparmos o significado de empoderamento pessoal e coletivo, ainda assim, a gente pode cair em algumas armadilhas liberais, no sentido de dizer que eu sou diva e tal. Eu não gosto muito desse lugar que, muitas vezes, a mídia nos coloca, nós, mulheres negras, de maneira geral e nordestina, de maneira particular. Tiro até o status de autoridade discursiva da gente porque o Nordeste acaba sendo pintado pelo lugar da alegria, da celebração e nunca como um território de produção do conhecimento. Então, eu me coloco sempre nesse lugar: de alguém que está se instrumentalizando para não cair no lugar liberal de empoderamento, individualmente falando, mas sempre em conexão com as minhas antepassadas, no sentido de reconhecer o legado de luta contra o racismo, contra o patriarcado, contra o capitalismo e entendendo também que o Nordeste, rotineiramente, é colocado como o território do analfabetismo, da graça, como se nós não fossemos capazes, principalmente mulheres, mulheres negras, de produção do conhecimento.

ER – Como o seu estudo, o mestrado e o doutorado, vieram fundamentar esse pensamento?
AK – Desde a graduação eu discuto o encarceramento, então, eu penso que existe um genocídio do povo negro em curso. Esse genocídio se dá tanto pela violência letal, como através do sequestro para as unidades prisionais. No entanto, há uma tendência de a gente universalizar raça como se as mulheres também não estivessem privadas de liberdade. Meu esforço tem sido demonstrar as iniquidades que permanecem no sistema penitenciário atingindo as mulheres negras no sentido de não terem acesso à assistência religiosa prevista na Lei de Execução Penal, descumprimento de regras mínimas de tratamento de presas e todas essas funções que dizem respeito a uma unidade que trabalha a partir da ideia de colônia. Eu penso sempre o sistema prisional assim: colônia, colônia penal, colonização. Ali, estão depositados todos os aspectos que nós, aqui fora, também reivindicamos como a ausência total de garantias de nossa dignidade, aqui na diáspora africana.
ER – E o caminho para mudar essa realidade seria a educação…
AK – Com certeza, minha irmã. Quanto mais nos comprometermos com a educação antirracista, a gente caminha em direção ao abolicionismo penal, ao fim do proibicionismo, à ausência de criminalização de territórios, tudo isso só acontece porque na própria sala de aula acabam sendo reforçados os estereótipos de saci, de sacizeiro, de perigoso, de pessoas que não merecem confiança, que não são pessoas de boa fé. E isso leva o Estado a continuar perseguindo determinadas populações.
ER – Qual a sua opinião sobre a Lei de Cotas?
AK – As cotas agora completaram 20 anos de existência. Eu acredito que o ingresso por cotas é a maneira pela qual corrigimos, minimamente, desigualdades estruturais. A partir do momento em que você ingressa no ensino superior, você tem a chance de ter um médico que vai conhecer a política de saúde da população negra; tem a chance de formar juristas abolicionistas penais ou de teoria crítica de raça; tem chance de ter intelectuais que trabalham a Lei nº 10.639, a Lei nº 11.645 [leis que tornam obrigatório o ensino da História e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar]. Tudo isso tem a ver com compromisso antirracista contra colonial que, no âmbito da educação, nos coloca na posição de militantes intelectuais, militantes teóricos.
ER – O professor e antropólogo Kabengele Munanga esteve na Bienal e afirmou que, para ele, o racismo brasileiro é um crime perfeito, que mata duas vezes – a segunda pelo silêncio. Hoje em dia falamos mais sobre o racismo, temos mais denúncias, imagens e provas desse crime. Esse é o primeiro passo para mudar essa realidade na sua visão?
AK – Com certeza. Agora, com as redes, com essas tecnologias, fica inevitável o Estado reconhecer que o racismo está aí, escancarado. E, ainda assim, os flagrantes são mínimos. Porque eu penso assim: se o racismo é estrutural, deveria, sobremaneira, conseguirmos apreender os racistas, mas eles, ainda assim, conseguem dialogar com a medicina, em termos de concessão de laudo de que eles têm problemas de saúde mental, problemas emocionais. Enquanto nós, que somos usuários e usuárias de substâncias, por exemplo, que deveríamos ter comprometimento com a saúde, somos privados de liberdade e considerados traficantes, por exemplo. Então, realmente, é um crime perfeito. Eu, acompanhando a audiência de custódia, não vi nenhum passar por ali, mesmo o racismo sendo estrutural.
ER – Sobre o conceito de interseccionalidade, como funciona essa definição que mistura gênero, raça e classe?
AK – Minimamente, é esse tripé, mas é uma categoria que cruza os marcadores sociais para perceber de que forma uma identidade é atravessada, simultaneamente, e de maneira dinâmica pela estrutura do racismo, do capitalismo, do heteropatriarcado. Não para colocar as mulheres negras como as coitadas nessa sociedade. Mas, sim, elas são expostas mais vezes às dinâmicas do racismo patriarcal capitalista porque são elas que vendem a força de trabalho, são elas, mulheres, vítimas de violência doméstica. Nosso país é o quinto do mundo em feminicídio e, em violência doméstica, as mulheres negras são 85%. Da mesma forma que o racismo, simultaneamente, impede que as queixas dessas mulheres sejam atendidas na delegacia.

ER – Como mudar essa realidade? Em sua opinião, é um problema estrutural?
AK – É. E passaria pelo esforço coletivo. Não de um grupo que reivindica só raça, o outro reivindica gênero, o outro reivindica classe. Se a gente consegue ter um olhar multifacetado, a partir da interseccionalidade, a gente vai lutar pelo fim da exploração capitalista, mas pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim do racismo, porque essas estruturas existem juntas, se alimentam. Você não consegue separar a sua condição de classe trabalhadora da condição de alguém que mora em um território vulnerabilizado, da condição de alguém que é mulher, que é cis. Então, a sua identidade é interceptada por várias marcações.
ER – Então, a junção desses grupos oprimidos pode ser uma saída contra esse sistema?
AK – Exato, existe uma tendência nossa a só lutar em prol do nosso problema estrutural. Vamos acabar com o capitalismo. Se acabar com o capitalismo, a mulher que mora embaixo da ponte, ainda assim, ela vai continuar apanhando do marido. Ou, se todo mundo reivindica o fim do racismo, não vai impedir que os homens negros sejam machistas, por exemplo. Então, tem que lutar contra toda opressão. Não dá para hierarquizar a raça em primeiro ou o gênero em primeiro, ou a classe vem primeiro. Quando a gente faz isso, a gente acaba deixando que uma categoria seja super incluída e as outras opressões, dentro daquela categoria, não sejam percebidas.
Veja mais sobre a visita de Carla Akotirene na Bienal clicando aqui.